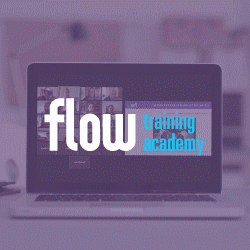Num mundo cada vez mais interligado, mas também mais vulnerável, a guerra comercial surge como um instrumento central da nova geopolítica global. Longe de se limitar a tarifas ou disputas alfandegárias, esta guerra representa uma profunda reorganização das prioridades económicas, políticas e militares das principais potências mundiais. Desde o regresso de Donald Trump à ribalta política até ao reposicionamento da China como superpotência tecnológica e industrial, vivemos uma era em que a economia é usada como arma e as cadeias logísticas são transformadas em campos de batalha silenciosos, mas decisivos.
O regresso de Trump à presidência dos Estados Unidos, ou melhor dizendo, ao espetáculo Americano, representa uma ameaça real à estabilidade económica global. A retórica agressiva, aliada ao histórico protecionista do anterior mandato, antecipa um endurecimento de tarifas e um afastamento de compromissos multilaterais. A imprevisibilidade torna-se um instrumento de negociação e de intimidação. A dependência das redes sociais como meio de comunicação institucional gera incerteza nos mercados e nos aliados, enquanto a substituição de diplomacia por confrontação, e onde a lei do mais forte é imposta, mina as estruturas de cooperação global e da tão conhecida diplomacia. A política externa deste Presidente/Magnata, centrada na obtenção de vitórias internas a curto prazo, é caracterizada por uma ausência de visão estratégica comum, o que gera uma instabilidade sistémica nas relações económicas internacionais.
Num plano paralelo, a China consolida a sua posição como maior desafiante ao domínio económico ocidental. O controlo quase absoluto de cadeias de valor críticas como o refino de lítio, terras raras ou fabrico de painéis solares confere-lhe um poder estrutural sobre a transição energética global. A aposta no 5G, na inteligência artificial e no domínio tecnológico é sustentada por um Estado que atua como agente económico ativo. A infiltração em mercados estrangeiros através de investimentos estratégicos em startups e infraestruturas portuárias mostra uma visão a longo prazo e fortemente centralizada. Esta agressiva política industrial é alimentada por subsídios estatais, embora que muitas vezes contra a lei da concorrência, distorcem o mercado global e colocam as economias ocidentais em situação de desvantagem competitiva face ao principal exportador do Mundo, já dizia o ditado, se a China pára, o Mundo deixa de girar.
A crescente dependência de matérias-primas estratégicas coloca novos desafios à segurança económica e energética do Ocidente. O lítio, o cobalto e o níquel são o novo petróleo da era digital e verde. A geopolítica do subsolo intensifica-se, com o continente Africano e a América Latina a emergirem como territórios de disputa silenciosa entre blocos económicos, coisa que os média muito pouco gostam de referir. A União Europeia tenta responder, mas os seus mecanismos são ainda tímidos e pouco articulados. O projeto da autonomia estratégica europeia procura reduzir dependências externas em setores críticos como semicondutores, defesa ou energia, mas enfrenta resistências internas e entraves burocráticos. A falta de uma política comum de defesa ou de harmonização fiscal e industrial torna a resposta europeia frágil face à assertividade americana e à estratégia de longo prazo chinesa, embora ligados pelo mesmo continente 27 países Estados-Membro serão sempre, no fim do dia, 27 países diferentes, com culturas diferentes, línguas diferentes e capacidade de produção e desenvolvimento diferente, facto a ter em conta quando falamos de países como os Estados Unidos e a China onde aqui temos países com magnitudes de Continentes.
“O controlo quase absoluto de cadeias de valor críticas como o refino de lítio, terras raras ou fabrico de painéis solares confere-lhe [à China] um poder estrutural sobre a transição energética global.”
O comércio global já não é o mesmo desde o início da pandemia e da guerra na Ucrânia. A confiança nas cadeias de abastecimento globais foi abalada. A regionalização das trocas comerciais intensificou-se. Países procuram repatriar a produção e garantir redundância nos seus sistemas logísticos. Esta tendência é visível nos gigantescos pacotes de estímulo lançados pelos EUA e UE, como o Inflation Reduction Act ou o Green Deal, destinados a fomentar a produção interna e reduzir a dependência de terceiros. Contudo, esta política de subsídios levanta novas tensões entre aliados e abre espaço para uma nova corrida aos apoios estatais, numa lógica de subsidy’s war que poderá agravar as distorções do comércio internacional.
A logística, sendo o espelho da economia, sente o impacto direto desta nova realidade. Portos congestionados, rotas alteradas, tarifas inesperadas e revisões constantes de fornecedores tornaram-se parte do novo normal. A disrupção é permanente, exigindo uma digitalização acelerada e uma capacidade de adaptação contínua. Setores como o automóvel, a indústria farmacêutica e o agroalimentar enfrentam desafios acrescidos na sua capacidade de abastecimento e exportação. A instabilidade nos preços da energia e as sanções cruzadas agravam o cenário. O petróleo e o gás voltam a ser instrumentos de pressão política, com a Rússia e a OPEP a manipularem a produção e consequentemente os preços. A guerra energética torna-se uma extensão da guerra comercial.
A moeda também entra em cena como elemento estratégico. O dólar americano vê a sua hegemonia contestada pelo yuan chinês e pelas tentativas de blocos como os BRICS em criar alternativas monetárias. A digitalização das moedas acelera, e com ela surgem novas formas de influência e controlo. A fragmentação financeira global poderá vir a acentuar as desigualdades económicas e a enfraquecer instituições multilaterais como o FMI ou a OMC, que já vivem momentos de forte erosão de autoridade e legitimidade.
O papel das grandes corporações nesta engrenagem não deve ser subestimado. Empresas multinacionais exercem pressão direta sobre políticas comerciais e decisões diplomáticas. Através do lobbying e de mecanismos como as “portas giratórias”, influenciam o rumo da política externa e da regulamentação económica. Neste contexto, a guerra comercial transforma-se num espaço de disputa não só entre Estados, mas também entre interesses privados e públicos, ampliando a complexidade da governação económica global.
“A fragmentação financeira global poderá vir a acentuar as desigualdades económicas e a enfraquecer instituições multilaterais como o FMI ou a OMC.”
Casos concretos como a guerra dos chips ou as tarifas sobre o aço ilustram como estas disputas afetam diretamente setores fundamentais da economia. O bloqueio de exportações tecnológicas dos EUA à China provocou escassez global e revelou a vulnerabilidade ocidental. A retaliação tarifária entre EUA e UE expôs a fragilidade das relações comerciais entre aliados históricos. A imprevisibilidade enquanto tática negocial degrada a confiança e incentiva o surgimento de blocos alternativos.
Num cenário cada vez mais incerto, o risco de conflitos armados torna-se real. As tensões em torno de Taiwan, a prolongada guerra na Ucrânia, ou melhor a invasão da Ucrânia, os confrontos indiretos no Médio Oriente e a reativação de programas nucleares demonstram que a guerra comercial não se limita à economia. É, na verdade, um campo de batalha difuso onde se decidem as futuras lideranças mundiais.
Perante este cenário, a Europa tem de escolher entre continuar a reagir tardiamente ou tornar-se um ator estratégico com voz própria. Isso implica repensar a sua arquitetura económica, reforçar as suas alianças internas e investir na sua capacidade produtiva e tecnológica. A guerra comercial não é uma guerra convencional. É um jogo de poder e sobrevivência num mundo onde a ordem anterior ruiu e a nova ainda está por escrever. A única certeza é que, neste jogo geopolítico do caos, a passividade tem um custo que a Europa já não pode suportar.
“A guerra comercial não é uma guerra convencional. É um jogo de poder e sobrevivência num mundo onde a ordem anterior ruiu e a nova ainda está por escrever.”
Se há algo que esta potencial guerra comercial, liderada por figuras erráticas como Donald Trump, veio provar é que a Europa não pode continuar a agir como um continente hospitaleiro e bem-educado numa mesa de poker onde todos os outros estão armados até aos dentes. A ingenuidade diplomática e económica da União Europeia começa a ter contornos perigosos, e Portugal, como parte integrante deste bloco, deve reconhecer com urgência que os tempos mudaram. Já não se trata de garantir apenas o crescimento económico ou os fluxos de investimento, trata-se de sobrevivência estratégica. E sim, o termo é forte porque o momento exige palavras claras.
É vital perceber que os Estados Unidos, sob a liderança renovada de Trump, não hesitarão em usar aliados como peças descartáveis no xadrez da manipulação económica global. Hoje são tweets sobre tarifas, amanhã pode ser o fim do apoio à NATO, no dia seguinte a imposição de barreiras aos produtos europeus, sempre com um sorriso televisivo e a bandeira americana em fundo. O que está em jogo é a nossa autonomia industrial, militar e energética e, por consequência, a nossa relevância no mundo.
“Portugal, neste cenário, deve deixar de se ver como mero observador periférico.”
A Europa deve abandonar a sua postura complacente e começar a agir como bloco coeso, não apenas em retórica parlamentar ou em cimeiras de fotografia fácil, mas em decisões concretas. É hora de criar um verdadeiro escudo económico e estratégico, investindo agressivamente em tecnologia, produção interna e defesa. A dependência crónica de semicondutores asiáticos, energia russa ou proteção americana deve acabar. Acordos como o European Chips Act, por mais promissores que pareçam, precisam sair do papel e ganhar músculo industrial rapidamente.
Portugal, neste cenário, deve deixar de se ver como mero observador periférico. O país tem de se posicionar como peça ativa neste rearmamento estratégico europeu, investindo na modernização dos seus portos, na captação de indústrias críticas e no reforço das suas capacidades logísticas ou invés de andar de eleição em eleição não contribuindo absolutamente em nada para nada. A economia do mar, tantas vezes prometida, precisa finalmente de ser tratada como um vetor de soberania, e não apenas como uma linha decorativa em discursos de ministros.
Se não aprendermos com esta tempestade que se avizinha, se continuarmos a passar panos quentes em líderes imprevisíveis e a depender de cadeias de abastecimento frágeis então não restará muito para proteger quando a próxima crise estalar. E, sejamos honestos a próxima crise já não é mais uma questão de “se”, mas de “quando”.
Gonçalo Vieira, Finalista de Gestão de Transportes e Logística, ENIDH